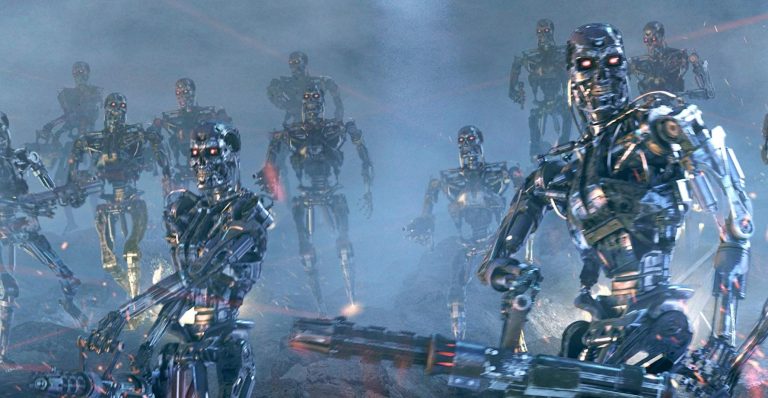Há algo profundamente humano na vontade de corrigir imperfeições. Sempre buscamos dominar a natureza: primeiro com ferramentas, depois com remédios, e agora, com a genética. A notícia de que a startup Preventive levantou milhões para tentar corrigir mutações em embriões reacende não apenas debates científicos, mas um incômodo mais íntimo — um incômodo quase filosófico.
Afinal, o que significa interferir no começo de uma vida?
A edição genética, por mais promissora que seja, não é apenas uma tecnologia. É uma fronteira. E fronteiras, quando cruzadas, raramente permitem retorno.
Hoje falamos em prevenir doenças graves — uma meta nobre e difícil de contestar. Mas a história da ciência mostra que toda boa intenção abre caminho para intenções que nem sempre são tão boas assim. O que começa como cura pode se tornar controle. O que começa como proteção pode se transformar em seleção.
E é justamente aí que mora o perigo.
A ilusão do “podemos, então devemos”

A sociedade moderna vive presa à lógica do progresso contínuo. Criamos uma cultura onde inovar virou sinônimo de acertar. Mas nem toda inovação é avanço. Nem toda descoberta é benção.
A edição genética em embriões pode eliminar doenças devastadoras? Sim.
Mas também pode ser o começo de um mercado invisível, silencioso, perigoso — onde o futuro das pessoas deixa de ser natural e passa a ser projetado.
Quando falamos de editar embriões, não estamos falando apenas de ciência.
Estamos falando de poder.
E poder, quando mal distribuído, sempre cobra caro.
O risco de perder o que nos torna humanos
O ser humano é imperfeito — e talvez seja essa imperfeição que cria empatia, diversidade e até inovação. O sonho de “corrigir” a natureza pode acabar esculpindo sociedades mais homogêneas, mais frias, mais hierarquizadas biologicamente.
E não precisamos de muita imaginação para prever isso.
Basta olhar para o passado.
O século XX foi marcado por ideias de eugenia que, em nome da “melhoria da espécie”, produziram tragédias humanas. Hoje, embalados por discursos tecnológicos sofisticados, corremos o risco de repetir velhos erros — só que agora com ferramentas mais precisas, silenciosas e sedutoras.
O perigo não está na tecnologia em si, mas na crença de que podemos controlar totalmente o que ainda nem compreendemos por completo.
A pergunta que ninguém quer responder
Quando falamos de editar embriões, não estamos perguntando apenas “é seguro?” — estamos perguntando:
Quem terá o direito de decidir como o futuro de outra pessoa deve ser?
Quem define o que é uma “imperfeição” aceitável?
E o que acontece quando começarmos a corrigir não apenas doenças, mas características?
O debate não é sobre genética.
É sobre limites.
É sobre saber reconhecer quando a ciência avança mais rápido do que a nossa capacidade de lidar com as consequências.
E então, até onde devemos ir?
A tentação de editar o futuro é grande.
A promessa, brilhante.
A tecnologia, ousada.
Mas o futuro não pode ser escrito apenas em laboratórios. Ele precisa ser debatido na sociedade, entendido pela política, questionado pela ética e, acima de tudo, tratado com humildade.
Porque o dia em que acreditarmos que podemos corrigir tudo pode ser o mesmo dia em que começamos a errar de forma irreversível.
E é por isso que a pergunta segue viva, incômoda e urgente:
até onde a ciência deve ir na tentativa de editar o futuro antes mesmo do nascimento?
E o maior risco não é o que a tecnologia faz conosco, mas o que ela nos convence de que podemos fazer com os outros.
No fim, a questão não é “até onde a ciência pode ir”.
A questão é:
até onde nós, enquanto sociedade, permitiremos que ela vá sem perdermos a nós mesmos no processo?